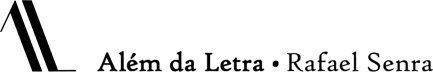De "Eraserhead" a "Império dos Sonhos": vi tudo de David Lynch em três meses.
E o que essa imersão me ensinou sobre arte, cinema, tempo e comunidade.
Em janeiro de 2025, o anúncio da morte de David Lynch chegou como as cenas desconcertantes de seus filmes — uma notícia lancinante, que atentava contra nossa própria racionalidade. Entretanto, assim como a morte de sua icônica personagem Laura Palmer em Twin Peaks, o luto nem sempre tem a ver com a tristeza em si, mas com a oportunidade de poder refletir sobre questões mais profundas. Lembro que, nas redes sociais internet afora, os admiradores de Lynch lamentaram a perda de uma voz autoral tão singular, enquanto surgia em paralelo o desejo coletivo de relembrar tantas cenas de seus filmes, como se buscássemos reler cartas deixadas por uma pessoa querida que foi embora de repente.
Foi quando o crítico Miguel Forlin teve uma intuição certeira em anunciar, em fevereiro de 2025, o curso David Lynch – Transformando Ideias em Imagens e Sons, que rapidamente reuniu cerca de duzentos inscritos em torno de uma mesma tarefa: revisitar, com olhos atentos e sensíveis, cada longa-metragem de Lynch (e as três temporadas da série Twin Peaks).
Me matriculei no curso com enorme expectativa, mas, pisciano que sou, naturalmente tomei uma rasteira quando veio o primeiro choque de realidade: se eu quisesse fazer esse curso direito, precisaria me dedicar. Afinal, uma das maiores armadilhas na internet hoje em dia é a facilidade de adquirir cursos que talvez nunca encontremos tempo para terminar.
Os encontros entre Miguel e a comunidade de participantes acontecem ao vivo pelo aplicativo Zoom, e depois a gravação da aula é enviada por email aos inscritos. Acompanhei alguns dos primeiros encontros através das gravações, mas logo percebi como meu entusiasmo despencava em comparação com as participações ao vivo. De fato, o mais legal em um curso como esses não tem a ver com adquirir conteúdo, mas sim poder consolidar uma comunidade de reflexões compartilhadas, onde a discussão sobre a obra de Lynch torna-se um pretexto para conversarmos também sobre sonhos, traumas, simbolismos, e sobre as maneiras pelas quais a arte ainda pode nos afetar, nos confundir, nos transformar.
A dedicação exigida em um curso desse tipo não envolve apenas reservar tempo livre para participar dos encontros, mas, sobretudo, assistir aos filmes de um modo atento, concentrado, buscando captar nuances e detalhes especiais. Logo me peguei comparando a vida que levo hoje em dia e como as coisas eram na época em que fiz graduação e pós-graduação. Eram tempos nos quais me mantinha com mesada da família ou bolsas de estudo, permitindo que pudesse estudar com calma, ler bastante, participar de aulas e eventos, e ampliar meu contato com obras do cinema, quadrinhos, teatro, literatura... enfim, foi nesses anos de formação que adquiri boa parte da minha cultura cinéfila.
Com a rotina que tenho hoje – trabalhando como professor e desenvolvendo inúmeros projetos de pesquisa, extensão, além de criações artísticas variadas – a ideia de fazer uma maratona cinematográfica não é tarefa das mais fáceis. Para assistir a filmografia de Lynch, precisei realmente tratar isso como uma prioridade, o que envolvia abrir um espaço na agenda meio que na marra. Compromissos pessoais e profissionais foram adiados ou cancelados, permitindo que eu pudesse ter pelo menos duas brechas semanais: uma, ao longo da semana (para assistir ao filme da vez); e, depois, dedicar a tarde de sábado para o curso em si.
Não existem tantos diretores de cinema cuja obra completa posso me gabar de ter assistido: talvez tenha conseguido apenas com Wim Wenders ou Woody Allen. Ainda assim, os filmes desses autores foram vistos por mim ao longo de muitos anos. Agora, porém, o curso de Miguel Forlin era um convite para maratonar a filmografia de David Lynch de maneira contínua, preferencialmente na ordem cronológica, assistindo uma obra por semana.
Naturalmente, comecei por Eraserhead (1977), que figurava na minha memória afetiva como um filme esquisito e inacessível, mas logo percebi que essa jornada da maratona significaria uma renovação de perspectivas. Já em seu primeiro filme, David Lynch apresentava algo profundamente original, fruto de um cineasta já imbuído com forte marca autoral desde o início de sua trajetória, alguém capaz de construir cenas marcantes mesmo com um orçamento reduzido – a falta de recursos financeiros e materiais era compensada com uma intensa imaginação narrativa e plástica. Em seguida, o emotivo O Homem Elefante (1980) representou um salto de orçamento para Lynch, que, mesmo em um projeto por encomenda, foi capaz de contar a história de John Merrick como se fosse uma obra totalmente alinhada com a estética que iria desenvolver ao longo de sua carreira.
O controverso Dune (1984) demonstrou o choque entre o visionário Lynch e as demandas de Hollywood, com a família De Laurentis produzindo o filme com mãos de ferro e oferecendo pouco espaço para liberdade criativa. Os traumas que o diretor acumulou com esse fracassado blockbuster iriam fomentar fantasmas que alimentariam quase toda sua filmografia posterior. Foi Veludo Azul (1986) quem devolveu David Lynch nos trilhos do cinema autoral pós-nova Hollywood, demonstrando que, mesmo em um contexto de crescente interferência de burocratas, ainda havia espaço para cineastas disruptivos na indústria audiovisual dos EUA.
Segue então Twin Peaks (1990-91), que representa a primeira grande revolução de Lynch no universo televisivo (a segunda revolução, claro, seria sua obra final, Twin Peaks O Retorno, de 2017, um verdadeiro marco na estética seriada audiovisual). A demissão forçada do diretor na segunda temporada o leva a fazer o cativante filme Coração Selvagem (1990), antes que a emissora ABC convocasse Lynch para dirigir os episódios finais da série – fator que o motivou a fazer o controverso longa Twin Peaks: os Últimos dias de Laura Palmer, em 1992.
A oportunidade de assistir a filmografia de modo cronológico demonstrou como David Lynch foi gradativamente inserindo novos graus de complexidade e experimentalismo em suas obras, desafiando cada vez mais seus espectadores. A carga simbólica, sensorial e estética desses filmes nunca deixou de ser universal e significativa para todos que assistem. Entretanto, não são poucos que reclamam de não entender nada diante de um filme de Lynch. Por trás do clima onírico dessas obras tão fragmentadas e poéticas, muita gente duvida que exista uma estruturação da narrativa. Contudo, o curso do Miguel demonstrou como essas tramas foram cuidadosamente construídas nos moldes de um quebra-cabeça. A experiência de assistir a um filme de David Lynch pode ser mais satisfatória quando abandonamos a necessidade de deter conosco possíveis interpretações “definitivas”. Afinal, tratam-se de obras abertas, justamente por sua estrutura abstrata – e, consequentemente, polissêmica.
Twin Peaks: os Últimos dias de Laura Palmer marcou uma virada experimental na carreira do diretor, e seus filmes dali em diante passam a ser mais intensos em todas as suas características: mais crípticos, violentos, mas também mais sublimes, poéticos, enfim, sempre com matizes carregadas nas tintas. A única exceção, talvez, seja Uma História Real (1999), singelo filme feito para os estúdios Disney, e que figura como um dos meus filmes preferidos da vida. A cada vez que o assisto de novo, encontro um sentimento mais profundo de plenitude e beleza.
Apesar desse respiro de linearidade e equilíbrio formal, David Lynch começou a fragmentar cada vez mais o seu cinema na virada dos anos 1990 e 2000. Sobretudo no âmbito narrativo, ao explorar a possibilidade de filmes que se dividiam em múltiplas histórias. Podemos citar uma trilogia em que essa aposta da narrativa multiplicada vai se radicalizando: Estrada Perdida (1997) e Cidade dos Sonhos (2001) são obras que parecem condensar duas histórias diferentes em cada trama. Mas é Império dos Sonhos (de 2006, o último longa-metragem do diretor) que leva tais possibilidades ao limite do inclassificável, sendo impossível delimitar ali qualquer tipo de gênero ou de leitura linear. Este era o filme do qual eu menos me lembrava de detalhes. Sua trama aparentemente ininteligível é apresentada ao longo de três horas de duração, e a filmagem com câmeras digitais amplifica seu aspecto intrinsecamente subversivo.
Reassistir esse árduo Império dos Sonhos agora, depois de tantas discussões sobre a obra e o estilo de Lynch, significou para mim uma revelação. Na superfície, trata-se de um filme profundamente perturbador, com personagens que mudam de forma, atores que interpretam personagens diferentes a cada momento, saltos temporais inusitados, nos quais não fica claro se é uma viagem no tempo, um sonho ou um delírio. Ideias elevados e sonhos de poder ou fama dão lugar a dimensões bem mais sombrias da vida, como a experiência dos imigrantes do Leste Europeu expatriados na América, a dura realidade da prostituição ou a frieza implacável da indústria do entretenimento.
Mas qual não foi minha surpresa ao assistir a essa obra dessa vez e descobrir o quanto sua mensagem é redentora, do ponto de vista existencial e até mesmo espiritual. Império dos Sonhos pode ser resumido como sendo a história de uma personagem que passa por sua noite escura da alma, e, depois de se deparar com os aspectos mais rasteiros e dolorosos possíveis, chega ao ponto de poder sublimar e integrar os conteúdos sombrios de seu inconsciente.
Além de todo esse aprendizado e interação, a intensa jornada na obra de David Lynch tem rendido também alguns frutos significativos. Na aula sobre Estrada Perdida, fiz observações sobre o filme que levaram Miguel Forlin a me sugerir a escrita de um ensaio. Ele emendou essa observação fazendo um convite para que eu publicasse o vindouro texto na Revista Littera7, editada por ele (Miguel), Rafael Rocca, Jolie Antunes e Caio César. No dia 24/04, esse convite enfim se concretizou, e o texto está disponível na Littera7. Outra decorrência desse curso envolveu um convite para um livro acadêmico que aborda o tema dos mitos em séries de TV, programado para ser publicado em 2026. Ainda não posso falar muito sobre o projeto, mas dá para antecipar que vou escrever sobre as três temporadas da série Twin Peaks.
E é exatamente hoje, no dia da publicação dessa newsletter, que encerraremos o curso sobre David Lynch, analisando a terceira temporada da série Twin Peaks, intitulada The Return. Ainda que essa maratona esteja findando, preciso confessar que os filmes do diretor continuam reverberando em mim de diversas maneiras. É como se a recusa de Lynch em fechar sentidos gerasse tanto um sentimento de incômodo quanto de liberação, e de certa maneira suas histórias continuam falando conosco ao longo do tempo, habitando em nossa psique, como um sonho que recusa a se dissipar quando acordamos.
Essa jornada de imersão cinematográfica foi quase tão lynchiana e polissêmica quanto os próprios filmes do diretor, e, por isso, julgo que seria difícil resumir um saldo sobre a experiência. Mas devo dizer que um dos aprendizados mais significativos da obra de David Lynch envolve a tentativa de observar a existência de um modo menos cartesiano: a vida encarada não como algo a ser decifrado ou combatido, e sim como algo a se abraçar de maneira irrestrita. Conviver com o mistério da existência significa se abrir para dimensões que não podemos descrever de maneira objetiva. No fundo, trata-se da beleza de desconstruir nossas certezas.